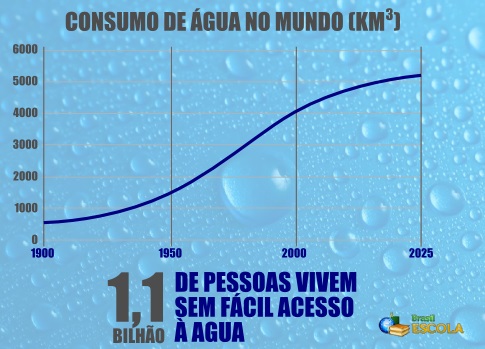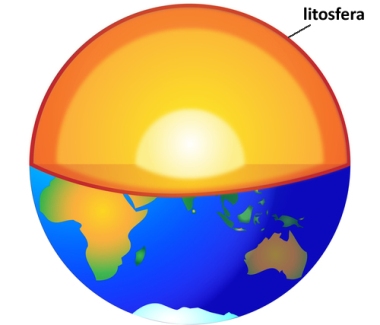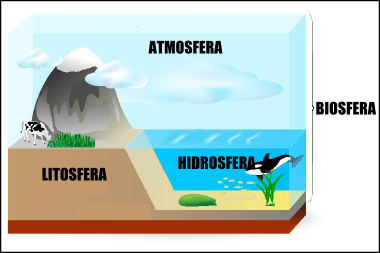Um dos maiores desafios
ambientais é a iminência da escassez de água em diversas localidades e o
comprometimento das águas superficiais, cada vez mais submetidas ao
aumento da sua utilização para atividades econômicas diversas, em
especial a agropecuária, e poluídas pelo lançamento de efluentes urbanos
e industriais. Uma série de conflitos é provocadapela situação de
estresse hídrico, quando a oferta de água é menor do que a demanda, fato
recorrente em regiões como o Oriente Médio, norte da África ou mesmo no
sertão nordestino. Não apenas a falta de água, mas as dificuldades para
torná-la potável para o consumo humano também desencadeiam tensões
sociais. A subnutrição e o consumo de água contaminada representam os
maiores causadores de mortalidade infantil em todo o mundo.
No Brasil, o clima predominantemente
tropical e a dimensão do território brasileiro contribuem para o país
deter uma das maiores reservas de água doce do mundo, contando com 12%
da quantidade de água doce superficial disponível no planeta. Ainda
assim, o Brasil não tem um serviço de saneamento básico adequado a todo
esse potencial. De acordo com o Ministério das Cidades, no ano de 2010,
apenas 46,2% da população brasileira possuía coleta de esgoto. Na região
Norte, que concentra 70% das reservas brasileiras de água doce, os
dados são ainda mais alarmantes: apenas 6,2 % dos domicílios são
equipados por esse serviço.
A necessidade por um planejamento
integrado de políticas públicas e um maior engajamento da sociedade
precisa ter como referência uma legislação ambiental adequada. Essa
legislação está amparada em um conjunto de normas gerais que identificam
o padrão de qualidade das águas a partir de critérios técnicos. De
acordo com o CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente), a qualidade
das águas pode ser medida de acordo com diferentes critérios e que podem
ser adaptados pelos órgãos estaduais. A ANA (Agência Nacional das
Águas) identifica sete índices principais utilizados no país:
1. Índice da Qualidade das Águas (IQA):Criado no ano de 1970, nos Estados Unidos, pela National Sanitation Foundation.
Desde o ano de 1975, a CETESB (Companhia Ambiental do Estado de São
Paulo) passou a utilizá-lo e, nos dias atuais, é o indicador mais
utilizado no Brasil. Seu maior objetivo é avaliar a qualidade da água
bruta para o abastecimento da população. Esse indicador analisa a
contaminação da água por esgotos domésticos, desconsiderando, por
exemplo, a presença de substâncias tóxicas. Os parâmetros utilizados são
de ordem física, química e microbiológica. São eles: oxigênio
dissolvido (OD), demanda bioquímica de oxigênio (DQO), coliformes
fecais, temperatura da água, ph da água, nitrogênio total, fósforo
total, sólidos totais e turbidez (redução da transparência).
2. Índice do Estado Trófico:Essa
classificação aponta diferentes graus de trofia, que significa a
presença excessiva de nutrientes na água, em especial fósforo e
nitrogênio, ela é perceptível pela proliferação de algas e a presença de
fortes odores e mortandade de peixes.
3. Análise de Balneabilidade:Estabelece estágios de qualidade da água para uso recreativo em praias, lagos e rios.
4. Índice de Qualidade de Água para a Proteção da Vida Aquática (IVA):Critério adotado pela CETESB que abrange a qualidade das águas da fauna e flora aquáticas.
5. Índice de Qualidade da Água Bruta para Fins de Abastecimento Público (IAP):
Critério criado em conjunto pela CETESB e SABESP (Companhia de
Saneamento Básico do Estado de São Paulo), institutos de pesquisa e
universidades. Ele é formado pelo Índice de Qualidade das Águas (IQA),
parâmetros que avaliam a presença de substâncias tóxicas (por exemplo, o
chumbo e o mercúrio) e parâmetros que afetam a qualidade organoléptica
(cor, brilho, odor, sabor e textura) da água (presença de fenóis, ferro,
manganês, alumínio, cobre e zinco).
6. Índice de Qualidade de Água em Reservatórios (IQAR):Criado
pelo IAP (Instituto Ambiental do Paraná) para analisar especificamente a
qualidade da água em reservatórios destinados ao abastecimento.
7. Índice de Contaminação por Tóxicos: Criado
pelo IGAM (Instituto Mineiro de Gestão das Águas), utilizando os
seguintes parâmetros: Amônia, Arsênio total, Bário total, Cádmio total,
Chumbo total, Cianeto livre, Cobre total, Cobre dissolvido, Cromo
hexavalente, Cromo total, Fenóis totais, Mercúrio total, Nitritos,
Nitratos e Zinco total.
Em geral, os poluentes lançados nos
rios são de fontes artificiais e naturais. As fontes artificiais incluem
o esgoto doméstico, água residual industrial (que inclui a água
residual de restaurantes, escritórios, hotéis etc.) e água residual de
criação de animais. As fontes naturais incluem os poluentes derivados
dos fenômenos ecológicos e outros (formações minerais venenosas,
colônias de microorganismos venenosos etc.). Outra atividade econômica
que compromete a qualidades das águas é a agricultura, que utiliza uma
grande quantidade de insumos (pesticidas, herbicidas, fertilizantes e
adubos químicos) que produzem substâncias que não são biodegradáveis e
podem permanecer no solo durante anos. Além da contaminação dos solos,
esses elementos contaminam as águas superficiais e subterrâneas,
carregando toxinas para outros ecossistemas.
A qualidade das águas muda ao longo do
ano em função de fatores meteorológicos e da eventual sazonalidade de
lançamentos poluidores e das vazões dos rios. À medida que o curso de
um rio avança em direção da jusante, a qualidade das águas melhora por
duas causas: a capacidade de autodepuração dos próprios rios,
principalmente através das quedas, e a diluição dos contaminantes pelo
recebimento de água com melhor qualidade de seus afluentes. Essa
recuperação, entretanto, atinge apenas os níveis de qualidade aceitável
ou boa. É muito difícil a recuperação ser total.
A redução da cobertura florestal também
é um fator que acarreta prejuízos para os recursos hídricos. Pelo
processo de interceptação da água da chuva pela copa das árvores, a
floresta desempenha importante papel na distribuição de energia e de
água à superfície do solo, afetando a distribuição temporal e espacial
da chuva e diminuindo a quantidade de água da chuva que chega
efetivamente ao solo. A ausência da cobertura florestal resulta em
alteração na capacidade de infiltração de água no solo. Consequentemente
ocorre um aumento do escoamento superficial em volume e velocidade,
favorecendo a lixiviação e a erosão dos solos, implicando na perda de
nutrientes, acúmulo de sedimentos em suspensão e consequente turbidez,
contaminação química proveniente das aplicações na agricultura e o
assoreamento dos cursos d'água.
Júlio César Lázaro da Silva
Colaborador Brasil Escola
Graduado em Geografia pela Universidade Estadual Paulista - UNESP
Mestre em Geografia Humana pela Universidade Estadual Paulista - UNESP
 Foto: Oswaldo Forte (O Liberal)
Foto: Oswaldo Forte (O Liberal) Fotos: Divulgação/Luciana Gatti/IPEN Brazil
Fotos: Divulgação/Luciana Gatti/IPEN Brazil